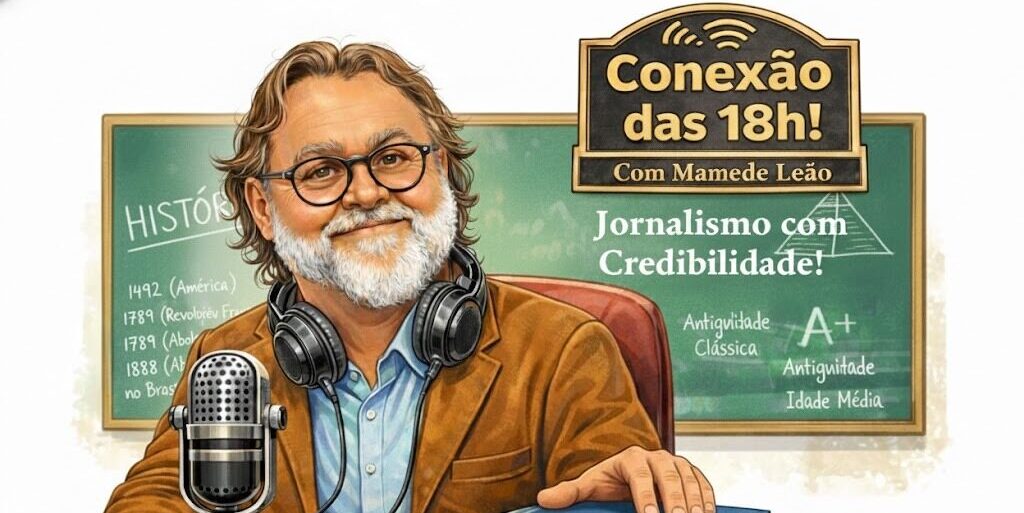A restauração conservadora e o movimento pela afirmação dos direitos civis e humanos de LGBTs nos últimos anos
Por Marcos de Jesus Oliveira*
Os últimos anos foram, decisivamente, importantes para a história do ativismo LGBT e, de um modo mais geral, para a história da democracia do país, ou melhor, de alguns de seus desafios. Após o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2011, houve um recrudescimento das forças conservadoras e contrárias às liberdades civis e à igualdade. O entendimento do Judiciário em relação à união estável homoafetiva sancionava, em alguma medida, encaminhamentos dados pelo Executivo como no caso da possibilidade de tributação conjunta do imposto de renda de casais homoeroticamente inclinados um ano antes. Essas decisões são parte da lenta e gradual, e também bastante dispersa e incompleta, afirmação da cidadania LGBT em nível federal cujos desdobramentos também são visíveis em níveis estadual e municipal.

A aprovação da união estável entre pessoas de mesmo sexo se tornou uma pauta importante do movimento LGBT, sobretudo, na década de 90 quando a deputada federal Marta Suplicy (PT-SP) propôs o projeto de lei 1.115/95 com o objetivo de disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar de anos de tramitação no Congresso Nacional, o projeto nunca foi aprovado. Quando o Superior Tribunal Federal reconheceu a união civil entre homossexuais e lésbicas, alguns legisladores se sentiram ameaçados em seu poder de disciplinar a sociedade por meio de leis. Formou-se um imbróglio entre o Judiciário e o Legislativo. Pelos corredores do Congresso Nacional, parlamentares cogitaram criar mecanismos que lhes garantissem a apreciação dos julgamentos das ações de (in)constitucionalidade examinadas pelo Judiciário, instituindo uma espécie de “poder moderador” da era republicana.
Ainda em 2011, logo após o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, parlamentares e líderes religiosos, contrário aos avanços da cidadania LGBT, convocaram a “Marcha da Família”. Nela reuniram-se, segundo algumas estimativas, cinquenta mil católicos e evangélicos vindos de diversas partes do país com o explícito objetivo de invalidar a decisão da Suprema Corte em relação aos direitos dos LGBTs. Durante o evento, ouviu-se o pastor evangélico Silas Malafaia gritar que, se preciso fosse, queimaria a Constituição Federal para evitar o reconhecimento da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, o recrudescimento parece ter atingido o limite quando Marco Feliciano (PSC-SP), pastor evangélico, é nomeado para presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM) em março de 2013.
Durante seu mandato, Marco Feliciano aprovou o projeto de lei de autoria de João Campos (PSDB-GO), conhecido por “cura gay”. O objetivo do famigerado projeto era sustar as resoluções do Conselho Federal de Psicologia que vetam a utilização de técnicas e de métodos coercitivos de modificação da orientação sexual. No auge desse debate acirrado em que as forças conservadoras ousaram dizer seu nome sem receios ou hesitações, projeta-se, no cenário político nacional, a deputada federal Marisa Lobo (PSC-PR), autodenominada “psicóloga cristã”, com seu discurso de defesa da “família tradicional”, recrutando exércitos de indivíduos contrários ao lento movimento de expansão da cidadania e da igualdade a LGBTs.
Ainda à época da presidência da CDHM por Marco Feliciano, veio a público o material pedagógico de combate à discriminação e ao preconceito em relação aos LGBTs sob a gestão de Fernando Haddad, então ministro do Ministério da Educação. O kit anti-homofobia, apelidado, pejorativamente, pela bancada religiosa, em especial, a evangélica, do Congresso Nacional, como “kit gay”, era resultado da parceria entre governo e entidades da sociedade civil, tendo, inclusive, a chancela da Organização das Nações Unidas para Educação (UNESCO). Pressionada pela bancada religiosa do Congresso, a presidente Dilma Rousseff declarou, desastrosamente, que seu governo não faria “propaganda de opção sexual”, suspendendo a distribuição do material cuja elaboração havia sido resultado de longos anos de trabalho e de vasta discussão entre diversos segmentos da sociedade.
Ao ceder à chantagem das bancadas religiosas, a presidente Dilma parece tê-lo feito porque, na época, Antônio Palocci, então ministro da Casa Civil, enfrentava acusações de irregularidades em relação a seu patrimônio. Caso o executivo não cedesse às exigências dos legisladores contrários aos direitos dos LGBTs, o governo enfrentaria muita oposição. Os direitos dos LGBTs acabaram se tornando moeda de troca diante do conservadorismo propalado, sobretudo, por políticos ligados ao fundamentalismo religioso. Em nome da governabilidade, nuvens de silêncio se formaram no poder executivo. Ouviram-se apenas pronunciamentos de cunho mais generalistas, como, por exemplo, “o governo é totalmente contrário a qualquer forma de discriminação e preconceito”.
Apesar da pressão exercida pelos militantes LGBTs e por progressistas solidários à causa, CDHM continuou sendo presidida por um político que não representava os grupos os quais deveria representar. Não havia mecanismos institucionais disponíveis à população para afastar Feliciano da CDHM. LGBTs estiveram presentes em muitas sessões da Comissão, protestando contra o deputado-presidente e suas declarações bastante controversas que reafirmavam o preconceito contra LGBTs ao invés de combatê-lo. Nesse difícil e conturbado período da era republicana em que a agenda de direitos humanos se viu emperrada, o Projeto de Lei 122/2006, da deputada federal Iara Bernardi (PT-SP), que trata da criminalização da homofobia, acabou, em virtude de manobras políticas, por sofrer inúmeras modificações numa tentativa de torná-lo mais palatável aos conservadores, mas o destino final foi seu arquivamento em 2015.
A caça às bruxas não terminou aí. Diversas frentes contra o avanço das políticas para LGBTs se formaram, ganhando força e peso no cenário político nacional. Campanhas de combate à AIDS e outras DSTs do Ministério da Saúde direcionada ao público LGBT se viram barradas em 2013 apesar de evidências empíricas apontarem que a comunidade LGBT ainda é bastante vulnerável à contaminação. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 e comemorado por muitos por, finalmente, contemplar 10% do PIB para educação, retirou as referências à igualdade de gênero e às de orientação sexual. As diferentes manobras foram, estrategicamente, levadas a cabo por líderes das bancadas religiosas do Congresso Nacional no intuito de barrar as tendências políticas progressistas.
A vitória de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados, no início de 2015, só veio reafirmar o recrudescimento das forças reacionárias e conservadoras em curso bastante avançado no Brasil dos últimos anos. Entre as diversas propostas polêmicas do deputado está o desarquivamento do projeto de lei de sua autoria, o PL nº 1672/2011, com a qual pretende instituir o “Dia do Orgulho Heterossexual”, a ser comemorado no terceiro domingo de dezembro. A coleção de desatinos de Eduardo Cunha e de seus apoiadores não acaba por aí. Seu posicionamento contrário à regulamentação dos meios de comunicação, à aprovação do casamento civil igualitário, à adoção de crianças por casais do mesmo sexo e à descriminalização do aborto é uma afronta à democratização da democracia e revela os traços do autoritarismo fascista sob o qual a atual legislatura se encontra.
Os diversos e diferentes acontecimentos evocados até aqui não são fatos isolados, mas integram a lógica pela qual as relações no interior do sistema político brasileiro são construídas bem como os modos pelos quais este sistema político se relaciona com a sociedade civil e com os movimentos sociais. Para o professor Marcos Nobre, em “Imobilismo em movimento”, o sistema político brasileiro está blindado às influências da sociedade civil. A blindagem ocorre ainda no período da redemocratização quando o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) assume uma centralidade nas discussões sobre o processo constituinte. Ali se formou a tendência segundo a qual o executivo, para governar, precisa estabelecer maiorias suprapartidárias como condição para que suas propostas sejam aprovadas pelo legislativo. A despeito disso, desde a redemocratização, também tem havido inúmeras tentativas de burlar a blindagem do sistema político originadas, sobretudo, na sociedade civil.
A atuação do movimento LGBT e de outros movimentos sociais progressistas diante da agenda conservadora no campo dos direitos civis e humanos assumida por diversos parlamentares é, seguramente, um exemplo importante desses momentos. Sem tensionarmos as relações entre governantes e governados por meio da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte Soberana e Exclusiva, os direitos civis dos LGBTs e de outras minorias estarão sujeitos aos interesses privados das elites políticas e sociais contrárias à igualdade e à liberdade, ou melhor, favoráveis apenas a uma igualdade e a uma liberdade que lhes permitam afirmar posições de domínio cada vez mais crescentes. A reforma política de base popular pode ser uma janela de oportunidades no sentido de favorecer mais participação política aos setores subrepresentados ou não representados, pluralizando os centros de decisão e o exercício coletivo do poder e da autoridade para fazer frente à restauração conservadora que, infelizmente, anuncia horizontes ainda mais sombrios para os próximos anos.